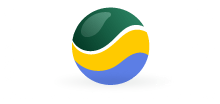Partidos e intelectuais ‘progressistas’ tentam justificar o terrorismo islâmico contra Israel e põem a diplomacia brasileira ao lado de regimes ditatoriais
Existe algo como o “direito” a não ter judeus por perto? Algo como o “direito” a não ter de cruzar com judeus na rua, ou o direito de tratar judeus como ratos? Esse é o pensamento de boa parte da esquerda brasileira ao falar da causa palestina.
Podemos não gostar do Hamas, discordando de suas políticas e métodos. Mas essa organização é parte decisiva da resistência palestina contra o Estado colonial de Israel. Relembrando o ditado chinês, nesse momento não importa a cor dos gatos, desde que cacem ratos.
Analisando-se o discurso típico de quem acredita que o Hamas tenha uma “causa” a ser ouvida, há alguns termos que sempre se repetem. Um dos principais diz respeito aos assentamentos. O que são assentamentos? Comunidades de judeus que se reúnem para morarem unidos, por mútua proteção. Pode-se dizer que não querer judeus por perto é antissemitismo. Ou pode-se dizer que é uma “luta anticolonialista”, ou criticar “assentamentos ilegais”. No fim, estamos falando da mesma coisa — com termos edulcorados ou realistas.
Claro que há complicações com a forma como os assentamentos judeus foram utilizados, principalmente após a Guerra dos Seis Dias. Mas não conseguiremos escapar da “questão judaica”, como foi chamada pelo antissemita Bruno Bauer — um colega de Karl Marx.
Boa parte da polêmica sobre a geopolítica da região envolve o fato de Israel aumentar assentamentos com a população civil — ou seja, judeus, em sua maioria — em áreas fronteiriças, que foram alvos de guerras e ataques desde a fundação do país. Foi o que aconteceu depois de Israel ser atacada por uma coalização militar, em 1949, que estabeleceu a Linha Verde. O mesmo ocorreu após a Insurgência Palestina dos anos 50 e 60, criticada pela alta taxa de baixas civis na resposta israelense. E se repetiu depois da crise de Suez, em 1956, com a tensão do Estreito de Tiran, posteriormente devolvido ao Egito.
Continuou na Guerra dos Seis Dias, quando Israel mais aumentou seu território, tomando a Cisjordânia (West Bank) da Jordânia, as Colinas de Golan da Síria, o Sinai e Gaza do Egito — o que geraria a Guerra de Desgaste, de 1967 a 1970. De novo na Guerra de Yom Kippur, em 1973, sem que o Egito e a Síria conseguissem recuperar territórios. Seguiu na Guerra do Líbano de 1982, que gerou a Zona Segura de Israel na fronteira sul libanês. Também nas duas intifadas, na Faixa de Gaza. E na Guerra do Líbano de 2006, com Israel interrompendo o bloqueio naval daquele país. Prosseguiu na Guerra de Gaza de 2008, quando Israel atacou alvos militares e civis, principalmente pelo uso de escolas, creches e hospitais, além de civis e reféns, como “escudo humano” pelo Hamas (sua principal base de lançamento de mísseis era uma biblioteca, que foi destruída). Isso para ficar nos conflitos principais.
Israel poderia fazer uma ocupação militar dos territórios controlados pelo Hamas (e pela Jihad Islâmica, pelo Hezbollah e por outros grupos terroristas que atuam em suas fronteiras). É consenso que as ocupações militares são custosas e discutíveis. A criação de assentamentos civis, por outro lado, é criticada por muitas pessoas — mas está longe de ter os efeitos negativos de uma ocupação militar. Perfeito? Longe disso. Lícito? Parece uma questão secundária para um povo acostumado a ter todo tipo de vizinho, como o brasileiro — mas fundamental para a região.
Apesar de a região ser antiga, os governos — e os próprios países — ainda discutem sua consolidação desde os fins da Primeira Guerra Mundial. Quando a Inglaterra e a França venceram o Império Alemão e o Otomano, repartiram o território em suas zonas de influência, no infame Pacto de Sykes-Picot, que definiu as respectivas esferas de influência no Oriente Médio. O próprio termo “Oriente Médio” foi criado ali, apontando justamente essa divisão colonial entre os britânicos e os franceses (a região antes chama-se “Ásia Menor”). O objetivo declarado do Estado Islâmico, por exemplo, é “colocar o último prego no caixão da Conspiração Sykes-Picot”. O que diabos isso significa? Destruir as zonas de influência europeia na região; retomar um governo unificado, como era na época do califado otomano; e destruir o Estado “colonialista e imperialista” de Israel. O que fazer com os israelitas nesse processo é uma pergunta bastante incômoda de ser feita a qualquer esquerdista.
Com a retórica esquerdista criticando o “colonialismo”, ou seja, tratando qualquer população rica e desenvolvida como culpada pelo atraso de populações “nativas”, Israel acaba sendo sempre o terrível vilão maniqueísta.
Colonialismo, termo tão satanizado em nossa educação “progressista”, é um gigantesco problema. Mas também foram países e povos ricos que criaram algumas coisas curiosas — como dessalinizar águas em um deserto, desenvolver tecnologia cibernética e, bem, instaurar democracia e governos representativos. Quando vemos esquerdistas criticando o “colonialismo” israelense e falando em democracia 2 minutos depois, a contradição fica clara — e o que resta é apenas um profundo ódio de ver judeus por perto, preferindo o governo de Israel. Um Estado secular, que permite inúmeras religiões, possui um árabe muçulmano na Suprema Corte, paradas gays e muito do que esquerdistas mais desejam para o Ocidente. O que o Hamas tem a oferecer, além de uma teocracia islâmica? Mais uma vez, perguntar o que farão com os judeus, cristãos, ateus e gays daquelas terras não parece ser algo fácil de ser respondido por uma Gleisi Hoffmann ou um Guilherme Boulos. O nome técnico é “limpeza étnica”.
O grande criador do nacionalismo palestino e que pregava a luta anticolonial foi Mohammed al-Husayni, o “Grande Mufti de Jerusalém”. Ficou conhecido por seu encontro na Alemanha, em 1941, com um certo Adolf Hitler, que prometeu ajudar a expulsar os judeus da Palestina e a criar a Liga Pan-Árabe. Será que os deputados de esquerda que são cheios de desculpas para a “luta anticolonial” do Hamas, como Orlando Silva, Fernando Haddad, Talíria Petrone, Sâmia Bomfim, Érika Kokay, Zeca Dirceu, Glauber Braga, Jandira Feghali, Ivan Valente e, claro, Paulo Pimenta gostam de ter esse tipo de aliado?
Com a retórica esquerdista criticando o “colonialismo”, ou seja, tratando qualquer população rica e desenvolvida como culpada pelo atraso de populações “nativas” (e haja aspas para “nativos” no problema palestino), Israel acaba sendo sempre o terrível vilão maniqueísta, pelo grande crime de, bem, existir. Esse palavrório acaba se aproximando perigosamente da tagarelice nazista.
Não custa lembrar que, além de testemunharmos o encontro de Paulo Pimenta com Sayid Tenório, que riu de mulheres estupradas pelo Hamas, verificamos que o grupo terrorista foi defendido em um livro com prefácio de Celso Amorim, que enalteceu o caráter “diplomático” do Hamas. Resta perguntar ao ex-chanceler qual é a diplomacia de estupros em massa, de bebês degolados, de idosos sequestrados, de famílias incendiadas dentro de suas casas. E, claro, o que o diplomata acha que deve ser feito com os judeus da Palestina.
Esta mesma classe intelectual adora chamar de “nazista” quem ouse deles discordar.